 Depois de ter estado colocado em Freetown, ao serviço do MI6, o serviço britânico de espionagem no exterior, Graham Greene regressa a Londres em Fevereiro de 1943.
Depois de ter estado colocado em Freetown, ao serviço do MI6, o serviço britânico de espionagem no exterior, Graham Greene regressa a Londres em Fevereiro de 1943.
É integrado na Secção V, o serviço incumbido da contraespionagem no exterior, organizado de acordo com critérios geográficos.
Um dos desks era o do sector ibérico, dirigido por “Kim” Philby, e neste o português, onde ele foi integrado, encontrava-se sob a direcção de Charles de Salis.
Mais tarde, quando em Agosto de 1943 Salis foi transferido para Lisboa, para ocupar a estação local do MI6, Greene ficou responsável pelo serviço português.
 Salis, com quem ainda falei na sua residência no Sul de Inglaterra, onde vivia com sua mulher, depois de haver terminado as suas funções no Foreign Office no Rio de Janeiro, referiu-se a Greene nos termos mais afectuosos.
Salis, com quem ainda falei na sua residência no Sul de Inglaterra, onde vivia com sua mulher, depois de haver terminado as suas funções no Foreign Office no Rio de Janeiro, referiu-se a Greene nos termos mais afectuosos.
Quando viu que, num manuscrito meu, que lhe exibi na altura, se referia que Greene, apesar de estar no «portuguese desk» da Secção V, não dominava a língua portuguesa, pediu-me, amigavelmente, que omitisse essa referência, pois poderia dar a ideia de que ele tinha sido, afinal, um mau elemento, quando fora, pelo contrário, uma excelente contribuição.
Lembrei-me então de uma graça que Graham deixou no seu livro A World Of My Own, no qual compilou umas quantas folhas das oitocentas páginas do diário de sonhos, que redigiu entre 1965 e 1989: o autor de The Fallen Idol sonhou que falava com Sartre e que lhe pedia desculpa pelo seu mau francês. Mas Sartre, polido, sossegava-o: «você fala muito bem francês, eu é que não percebo uma palavra do que você diz».
À data da colocação de Graham Greene, a Secção V encontrava-se ainda instalada em King Harry Lane, St. Albans.
O local, situado na propriedade de Lord Verulam, integrava três moradias: Prae Wood, a residência e escritório do chefe do serviço, Glenalmond, onde se albergavam os restantes oficiais da secção e um terceiro edifício destinado ao depósito do General Registry, no qual se encontravam os source books, livros most secret, onde se continha uma descrição nominal dos agentes colocados no estrangeiro.
O desk português estava no piso inferior, os sectores alemão, francês e holandês nos andares de cima do edifício Glenalmond.
 Quando, numa das minhas andanças pelos sítios sobre os quais escrevo, visitei o local, tive a grata surpresa de verificar que ali se albergava hoje uma creche infantil. O arrulhar de crianças substituíra, com a sua esperança num futuro mais feliz, essa densa preocupação que se vivera no tempo da guerra.
Quando, numa das minhas andanças pelos sítios sobre os quais escrevo, visitei o local, tive a grata surpresa de verificar que ali se albergava hoje uma creche infantil. O arrulhar de crianças substituíra, com a sua esperança num futuro mais feliz, essa densa preocupação que se vivera no tempo da guerra.
O ambiente de trabalho tinha então o seu quê de familiar, dada a proximidade das pessoas e o seu diminuto número, cerca de seis oficiais.
A Secção V era dirigida pelo major Félix Cowgill, que sucedeu no cargo a Valentine Vivian, vulgo «Vivi».
O seu ajudante era Tim Milne, o qual estava ocupado com a coordenação do material oriundo de Bletchley Park, onde se levava a cabo a descodificação das comunicações alemães decorrentes das máquinas Enigma, o material que circulava em círculos ultra restritos com a etiqueta Ultra.
Harold Russel [«Kim»] Philby, mau grado a responsabilidade que tinha à data nos serviços de contraespionagem, era uma profunda infiltração soviética na comunidade britânica de informações, um homem que na data conspirava já para alcançar a liderança do serviço.
O pessoal ao serviço no sector consistia em Charles de Salis, ocupado com Portugal e suas possessões, Trevor Wilson, especialista no Norte de África, incluindo assim Gibraltar, Tanger e Marrocos, Frank Hyde, Jack Ivens e Desmond Bristow. Mais tarde chegaria Francis Watts.
A entrada no sector de Trevor Wilson, então com cerca de trinta anos, ficou a dever-se, segundo Bristow confidenciou nas suas memórias, ao seu conhecimento da língua marroquina e «talvez às suas habilidades de comediante». Antes de chegar aos serviços secretos, Trevor havia sido comprador, na Abissínia, de excremento de doninha fedorenta para a companhia de perfumes Molyneux. Tinha, por isso, um razoável conhecimento da situação no norte de África. Católico, tal como Greene, tornou-se, por isso seu amigo. Encontrar-se-iam mais tarde no Vietname. Tal como quanto a Greene, o género feminino não o deixava indiferente.
Frank Hyde era um antigo oficial de ligação da Marinha Britânica em Barcelona durante a Guerra Civil espanhola.
Quanto a Jack Ivens, havia trabalhado como importador de fruta de Portugal e de Espanha, antes do início da Guerra. Era casado com uma grega.
A quantidade de trabalho ia para além das expectativas e Greene acumulava um sentimento de claustrofobia. Praticamente só depois das oito da noite conseguia sair para respirar algum ar fresco.
Por isso os momentos de descontração sabiam a pouco. Um deles era vivido em torno de um pub que se tornaria lendário, o Peahen Inn. Depois de o ter visto num livro de memórias do agente do MI6, Desmond Bristow, com quem conversei há uns anos em Málaga, onde se encontrava reformado, fiz questão de visitar o local e tomar uma cerveja numa das mesas por onde se deve ter sentado Graham Greene, “Kim” Philby e o resto do grupo.
Mas os almoços do grupo ocorriam também no King Harrys, sobretudo os de Domingo, onde este círculo de amadores cimentava as suas relações em torno de verdadeiros festins de cerveja e sanduíches.
Só que a Secção V não estaria ali por muito tempo pois, em Julho de 1943, mudar-se-ia para Londres onde, no número 7 em Ryder Street, St. James, ocuparia as instalações que acabariam por ser, mais tarde, as da prestigiada revista The Economist.
A entrada do edifício tinha uma placa onde se mencionava discretamente «Charity House».
Para se entrar cada um dos membros não exibia um cartão que o identificasse como um agente dos serviços secretos, mas sim um cartão de membro do «Greenwood Country Club».
 Junto ficava a residência do chefe máximo do MI6, Sir Stewart Menzies, o célebre «C» [aliás «CCS», que Ian Fleming, outro membro dos serviços secretos que deu em escritor, chamaria nos seus livros sobre James Bond, «M»]. O escritório de Menzies era no quarto andar do n.º 54 de Broadway. A entrada do imóvel ostentava, para melhor disfarce, uma placa que o identificava como a sede da firma «Minimax Fire Extinguisher Company».
Junto ficava a residência do chefe máximo do MI6, Sir Stewart Menzies, o célebre «C» [aliás «CCS», que Ian Fleming, outro membro dos serviços secretos que deu em escritor, chamaria nos seus livros sobre James Bond, «M»]. O escritório de Menzies era no quarto andar do n.º 54 de Broadway. A entrada do imóvel ostentava, para melhor disfarce, uma placa que o identificava como a sede da firma «Minimax Fire Extinguisher Company».
Já em Londres, Greene teria a oportunidade de encontrar Norman Holmes Pearson, professor de literatura da Universidade de Yale e James Jesus Angleton, que viria a ser director da CIA, ambos integrados, à data, nos serviços americanos de espionagem, o OSS.
Ao contrário do que muitos julgam e alguns escrevem, o seu trabalho era burocrático.
Não há, pois, muito que se diga do que fez Graham Greene durante a sua permanência na Secção V do MI6 e haverá documentos por libertar da lei do segredo que ainda poderão trazer surpresas.
Seguramente que lhe competia trabalhar no extenso ficheiro de espiões nazi-fascistas que operavam a partir da Península Ibérica, nomeadamente desde Lisboa, o Purple Primer.
Era para isso alimentado por informação que lhe chegava de várias fontes, nisso incluindo o produto da escuta e descodificação das comunicações telegráficas criptografadas alemãs.
O material chegava todos os dias numa carrinha de padeiro, conduzido pela mulher de um dos criptoanalistas.
Só que, para além desta tarefa de compilação de dados e de elaboração de relatórios, pouco mais se lhe conhece durante este seu período de permanência na Secção V do SIS.
Por isso, muito do que é referido a tal propósito tem mais a ver com acontecimentos que ele viu do que com factos que ele praticou.
Se a gestão do agente duplo catalão “Garbo” ou do checo Paul Fidrmuc [“Ostro”], ambos a operar a partir de Lisboa, ocorreram então, com envolvimento da Secção V, não encontrei evidência da sua intervenção nessa circunstâncias.
A descrição de «Kim» Philby é, nesse aspecto, eloquente: Greene contribuíra para a alegria e boa disposição do serviço mas, de facto, não se recorda um feito relevante a que ele pudesse ter estado então associado.
Talvez a arte de viver o servisse então da maneira mais cómoda, ele que deixaria num seu livro a ideia de que, nos serviços secretos, uma parte do trabalho consistia em dar a impressão de que se trabalhava.
Vivendo uma vida secreta, tendo experimentado a vida dos serviços secretos, Graham Greene haveria de exprimir, na sua obra literária, muito desse envolvimento com a duplicidade, com as sombras e com a clandestinidade.
Nesse aspecto, não esteve só e entroncou uma extensa galeria de escritores espiões e de espiões escritores: John Buchan, Ian Fleming, Somerseth Maugham, Malcolm Muggeridge, Rudyard Kipling, T. E. Lawrence, Compton Mackenzie, John Le Carré, acompanham-no nesse particular.
Vistos do ângulo de Greene, os serviços secretos são uma entidade fria e indiferente aos dramas humanos que se vivem no seu interior.
A propósito da sua escrita, David Cornwell, que passou para a literatura com o nome de John Le Carré, disse que Graham Greene tinha «uma compaixão universal transcendente».
Ora, nesta perspectiva, um tal homem só podia diabolizar o mundo restrito em que se movia.
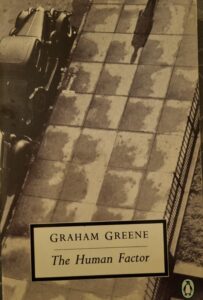 Aí está essencialmente em causa o factor humano e The Human Factor é precisamente o título de uma das suas obras mais conseguidas a este respeito. Greene sabe que o homem é sempre mais complexo e mais universal do que aquilo que dele se desdobra no emprego, na família, num partido.
Aí está essencialmente em causa o factor humano e The Human Factor é precisamente o título de uma das suas obras mais conseguidas a este respeito. Greene sabe que o homem é sempre mais complexo e mais universal do que aquilo que dele se desdobra no emprego, na família, num partido.
Ao escrever uma introdução ao seu livro The Confidential Agent que, em Portugal, circula como O Agente Secreto, Greene deixou este momento sobre uma das personagens: «Há certas coisas que me agradam neste livro: por exemplo, a situação do agente com escrúpulos, que não tem confiança no seu partido e que chega à conclusão que o seu partido tem razão em não confiar nele».
E com esta equação, a da fé, crença e confiança e dos seus reversos, desespero, dúvida, a suspeita, que Greene passa da álgebra do real para a geometria da ficção.
Mas, porventura, é na sua visão do que se possa entender como o paroxismo da lealdade que Graham Greene se notabilizou.
Ao escrever o prefácio para o livro de memórias que «Kim» Philby editou já a partir da URSS, Greene teve a ocasião de exprimir a verdadeira natureza do seu pensamento a este respeito.
Ligava-o a Philby uma profunda amizade. Entre ambos manteve-se uma regular correspondência, contra o que seria conveniente.
Ao desaparecer a 23 de Janeiro de 1963 com destino a Moscovo, a partir de Beirute, onde se encontrava colocado, aparentemente como jornalista correspondente do Observer e da revista Economist, Philby tornar-se-ia uma das pessoas mais odiadas pelo establishement das informações.
Greene compreendeu Philby, como poucos o fizeram.
Compreendeu-o porque, no plano humano, relativizou a sua atitude, situando, na sua verdadeira dimensão, a questão da lealdade, comparando a que é devida a um país com a que é devida a uma pessoa ou a uma ideia. A frase «quem, entre nós, não traiu algo ou alguém mais importante do que um país?» que levou àquele prefácio, liquida, de modo definitivo, a majestade da dedicação fiel a uma Nação ou a um Estado.
Compreendeu-o porque lhe deu o direito ao esquecimento e à amnistia moral. A última frase desse polémico texto introdutório «depois de trinta anos no subterrâneo ele seguramente ganhou o direito à paz» encerra em si mais compaixão humana do que aqueles que, ao escreverem na imprensa britânica, em Maio de 1988, o obituário de Philby, não hesitaram na selvajaria de desejarem que a sua agonia tivesse sido longa e dolorosa.
Compreendeu-o, enfim, porque soube compreender o âmago de uma das frases dessas memórias, pela qual em que Philby, lembrando que, durante a Segunda Guerra, a Grã-Bretanha tivera na Rússia soviética uma aliada contra a Alemanha nazi, clama, ante o antagonismo que, com a guerra-fria, nascera entretanto entre ambas as potências que, afinal, a Inglaterra, que o acusava de traição, é que mudara e traíra, pois ele, mantivera-se fiel. Greene, ao visitar a URSS, em Setembro de 1986, teria a oportunidade de visitar Philby no seu apartamento em Patriarch’s Pond. Novos encontros teriam lugar em Setembro do ano seguinte e em Fevereiro de 1988, pela última vez. Rufina, a última mulher das muitas mulheres de “Kim” Philby, recorda com emoção esse derradeiro momento.
Greene, ao visitar a URSS, em Setembro de 1986, teria a oportunidade de visitar Philby no seu apartamento em Patriarch’s Pond. Novos encontros teriam lugar em Setembro do ano seguinte e em Fevereiro de 1988, pela última vez. Rufina, a última mulher das muitas mulheres de “Kim” Philby, recorda com emoção esse derradeiro momento.
Claro que tanto Greene como Philby ignoravam que esse encontro vinha orquestrado pelos serviços do KGB.
Genrikh Borovikh, jornalista da agência soviética Tass e da televisão de Moscovo, actuando a mando do «Centro» organizara a operação.
Philby vivia então numa miserável e anónima situação de ostracismo, ignorado quanto a tudo o que fizera em prol da URSS.
A nova direcção do KGB entendera o absurdo da situação. Entendera, sobretudo, em que medida uma tal ingratidão poderia revelar-se desconcertante para futuros recrutamentos, evidenciando que não valia a pena, afinal, o heroísmo em prol dos «amanhãs que cantam». Por isso tentaram reabilitar Philby, trazendo-o à ribalta.
Neste particular, sem que disso se desse conta, Greene foi instrumental.
Aquele vício que ele, certeiramente, diagnosticara nos serviços secretos ingleses contagiava, também, os da pátria do socialismo. O factor humano contava pouco, contava zero.
Greene demite-se do SIS no dia 2 de Junho de 1944, quatro dias antes do dia D, o dia do desembarque das forças aliadas nas praias da Normandia. Fê-lo com todo o cavalheirismo. Convidou “Kim” Philby e Tom Milne para almoçarem no Café Royal e apresentou as suas razões.
Mais tarde justificar-se-ia dizendo que o fizera porque se apercebera das movimentações de Philby para alcançar o lugar do Director Cowgill e não quisera alinhar em tais manobras.
Quando Norman Sherry escreveu a sua monumental biografia de Graham Greene, que planeou em três volumes, e consumou após doze anos de trabalho insano, ainda as verdadeiras razões da resignação do escritor permaneciam envoltas em mistério.
Certo que uma personalidade intranquila como a de Greene seria pouco compatível com a permanência naquela rotina burocrática por muito tempo. Philby, com quem Sherry teve ainda a oportunidade de falar, confidenciou-lhe que chegou a oferecer a Greene a chefia do lugar que ocupava, admitindo recomendá-lo para aí, mas ele recusou-se.
Na breve colectânea sobre os seus frequentes sonhos, que anotava com proeficiente cuidado numa agenda, e pediu, dias antes de morrer, a Yvonne Cloetta, sua companheira do final de vida, que compilasse para publicação, deixou esta irónica nota: «a minha experiência no M.I.6 no Meu Próprio Mundo [My Own World] foram muito mais interessantes do que o trabalho de secretária que levei a acabo durante três anos no Mundo Comum». Foi um dos muitos livros que escreveu.
Liberto dos serviços secretos, Graham Greene prosseguiria, porém, uma missão com isso convergente no Political Intelligence Department [PID] e no Political Warfare Executive [PWE].
A ligação às informações e à propaganda mantinham-se. Onde termina a primeira e se inicia a segunda é zona penumbrosa: nasce, nesse território incerto, a contra-informação, enquanto estratégia de “decepção”, a arte de enganar parecendo que se informa.
* excerto, ligeiramente modificado, de um texto de introdução que escrevi para o livro “O Americano Tranquilo” que o jornal “Público” editou este mês.



